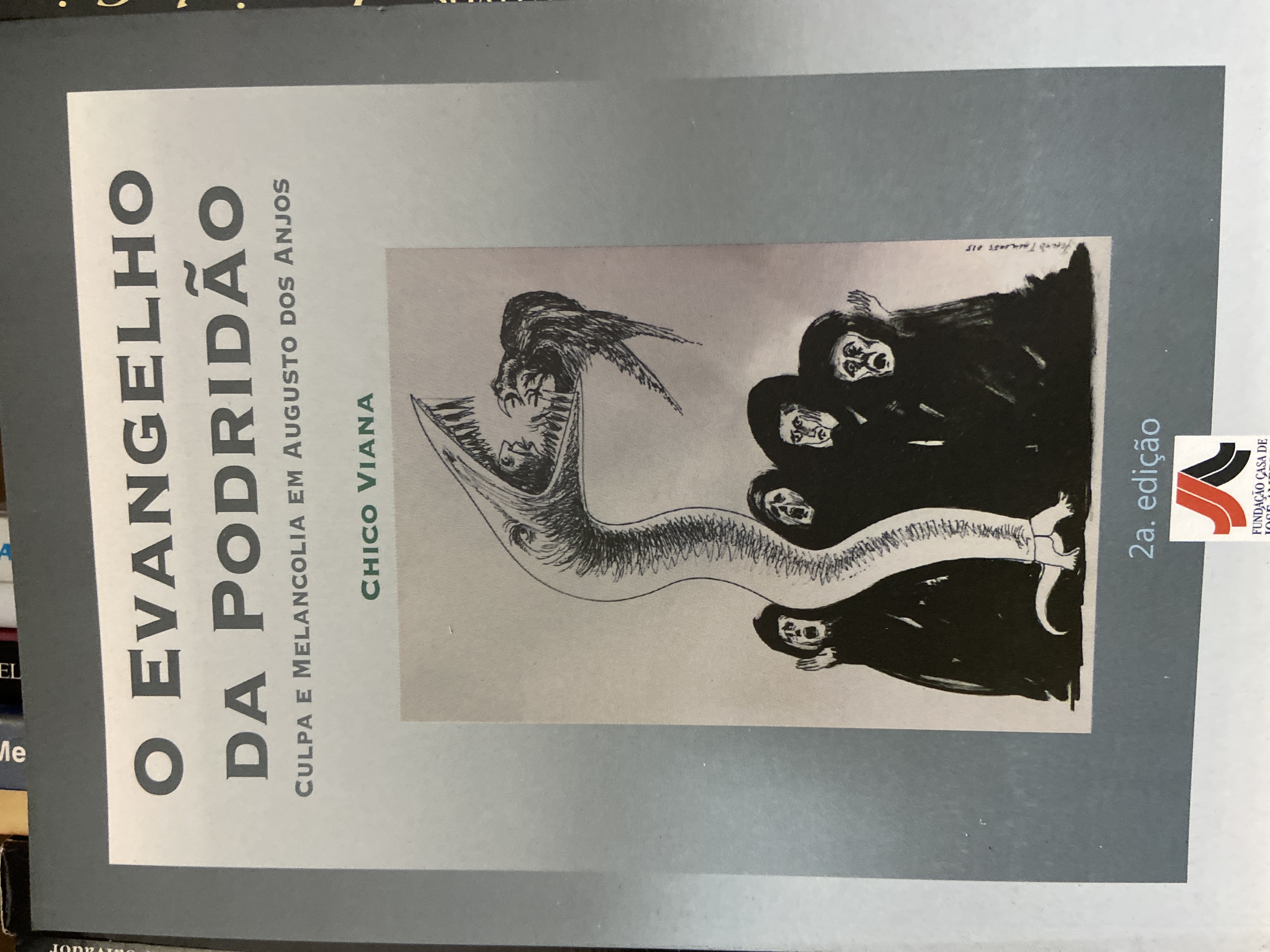O COLECIONADOR DE PALAVRAS
O hábito começou muito cedo. Dizia papá e mamã com um prazer especial em jogar com as sílabas. Pa... pá, mã... mã – os sons iam e voltavam até que ele os guardava para depois, quando quisesse, brincar de novo. Com o tempo foi juntando outros fonemas (bu... bu, pi... pi, ta... ta). Um dia teve febre e ouviu dodói; enamorou-se da palavra e ficou repetindo-a em seu delírio.
Cresceu e foi refinando as escolhas. Agora prestava atenção não apenas aos sons, mas também ao casamento que havia entre eles e o sentido. Às vezes a união lhe parecia perfeita, como em croque (sentia o atrito de um fonema no outro), bafo (a palavra terminava num sopro) ou empecilho (pronunciar essa foi um obstáculo que venceu a duras penas).
Noutras vezes, achava que palavra e som eram como estranhos. Erisipela, por exemplo. Ficaria bem para designar um metal precioso (“Usava um colar de erisipela legítima”), mas não para indicar uma doença. O mesmo se diga de faniquito, que mais parecia nome de passarinho (“Na manhã ensolarada, faniquitos em bando cortavam o azul do céu”). Teve pena da tia por ela sofrer de uma doença cujo nome não combinava em nada com as ulcerações que havia em suas pernas.
Descompassos como esse lhe deram uma vaga ideia das incoerências do mundo. Havia palavras bonitas para coisas feias e palavras feias para coisas bonitas, assim como há pessoas lindas com uma alma escura, e outras, de rosto nada atraente, com um espírito luminoso. O mais das vezes – foi aprendendo – o nome era uma falsa aparência das coisas. Isso não o levou a desistir da coleção, só que agora ele tinha um critério; passou a dividir as palavras conforme a semelhança que tinham com os objetos ou seres que designavam.
Agrupou de um lado, por exemplo, sanfona, crocodilo, miosótis, turmalina (se bem que essa mais parecesse nome de mulher) – e do outro presidente, cadeira, promotor, recurso (palavras que não excitavam a língua e que a gente, quando as ouvia, não tinha a curiosidade de saber o que significavam).
À medida que envelhecia, tornava-se mais exigente com a sua coleção. Algumas palavras lhe pareciam insípidas, por isso ele resolveu esvaziar parte do baú. Uma das primeiras que jogou fora foi jucundo, cuja hipocrisia não mais suportava (parecia designar algo triste, mas significava alegre). Trocou jucundo por meditabundo, palavra mais honesta e de acordo com seu atual estado de espírito. Jogou fora também vagar, flanar, leviano, e por pouco não se livrava de paciente (prudência, que entrou no lugar, parece que o aconselhou a esperar mais um tempo).
A coleção agora tinha pouquíssimos termos, mas cada um pesava tanto que o homem não conseguia transportar o baú. Deixou-o embaixo da cama e nele foi inserindo, sem muito entusiasmo, as palavras que ainda o impressionavam (sabia que, se parasse de colecionar, morria). Um dos novos termos foi achaque, que vagamente lhe soou como uma dança fúnebre de tribo africana (riu ao perceber que ainda tinha imaginação poética). Outro foi próstata, que lhe pareceu o som de uma chicotada (ta-ta). E um dos últimos foi tumor, que ele sem graça botou no lugar de humor.
Depois que morreu, os amigos e parentes ficaram intrigados com aquele baú embaixo da cama. Abriram-no e nada encontraram em seu interior. “Ele era meio tantã”, comentou a mulher. “Passava horas diante desse baú vazio.”
Resolveu guardá-lo, como lembrança, e aos poucos foi metendo nele os objetos inúteis da casa.