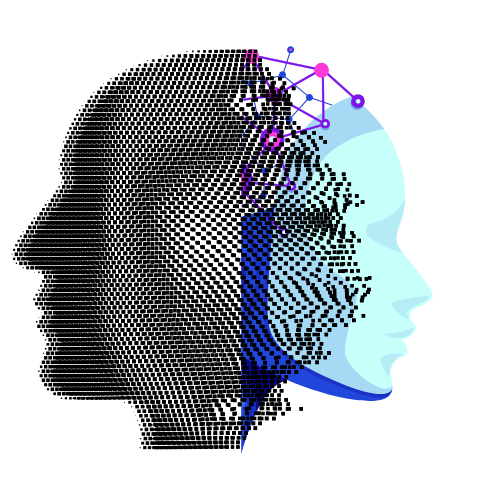Nos últimos anos, a presença da inteligência artificial no campo da escrita tem levantado debates calorosos. Críticos, leitores e até mesmo escritores passaram a desconfiar de qualquer texto polido, coeso e esteticamente bem estruturado, atribuindo-o, quase automaticamente, a uma máquina. Essa atitude, entretanto, denuncia não apenas desconhecimento sobre o funcionamento da IA, mas também um preconceito contra o próprio ato literário de lapidar a linguagem.
A escrita literária sempre se apoiou em técnicas. Desde a retórica clássica até os manuais modernos de estilo, o trabalho do escritor envolve escolhas conscientes de palavras, cadências e recursos gráficos.
Entre esses recursos, o travessão ocupa lugar de destaque: sinal de pontuação que confere ritmo ao diálogo, intensidade à narração e, muitas vezes, subjetividade à voz que se constrói. Reduzir o uso do travessão a um “indício de texto artificial” é ignorar séculos de tradição literária em língua portuguesa, de Machado de Assis a Clarice Lispector. O equívoco maior está em supor que a naturalidade ou a beleza de um texto seriam sinais de desumanidade. Paradoxalmente, quando a escrita atinge clareza, fluidez e elegância, logo se levanta a suspeita: “foi uma IA que escreveu”. Tal julgamento desconsidera que escritores humanos também perseguem a lapidação da forma. A busca pela boa estrutura não é exclusividade de máquina. É, antes de tudo, parte da essência do ofício literário.
É preciso reconhecer que a IA, sim, pode reproduzir padrões estilísticos, mas não detém, em última instância, a vivência, a angústia, o silêncio e as contradições humanas que se infiltram no texto literário. Confundir polidez com artificialidade é um erro duplo: primeiro, porque subestima a capacidade humana de escrever com rigor; segundo, porque superestima a IA, atribuindo a ela um monopólio que nunca lhe pertenceu.
O travessão, longe de ser prova de “escrita automática”, é testemunho da vitalidade da língua. Acusar o escritor de artificial apenas por empunhar com firmeza esse recurso é negar a própria pluralidade da literatura.
Assim, mais do que distinguir textos humanos e artificiais, deveríamos exercitar a leitura crítica. A questão não é quem escreve, mas o que se escreve, e o quanto esse texto, venha de onde vier, é capaz de tocar, provocar ou transformar o leitor.